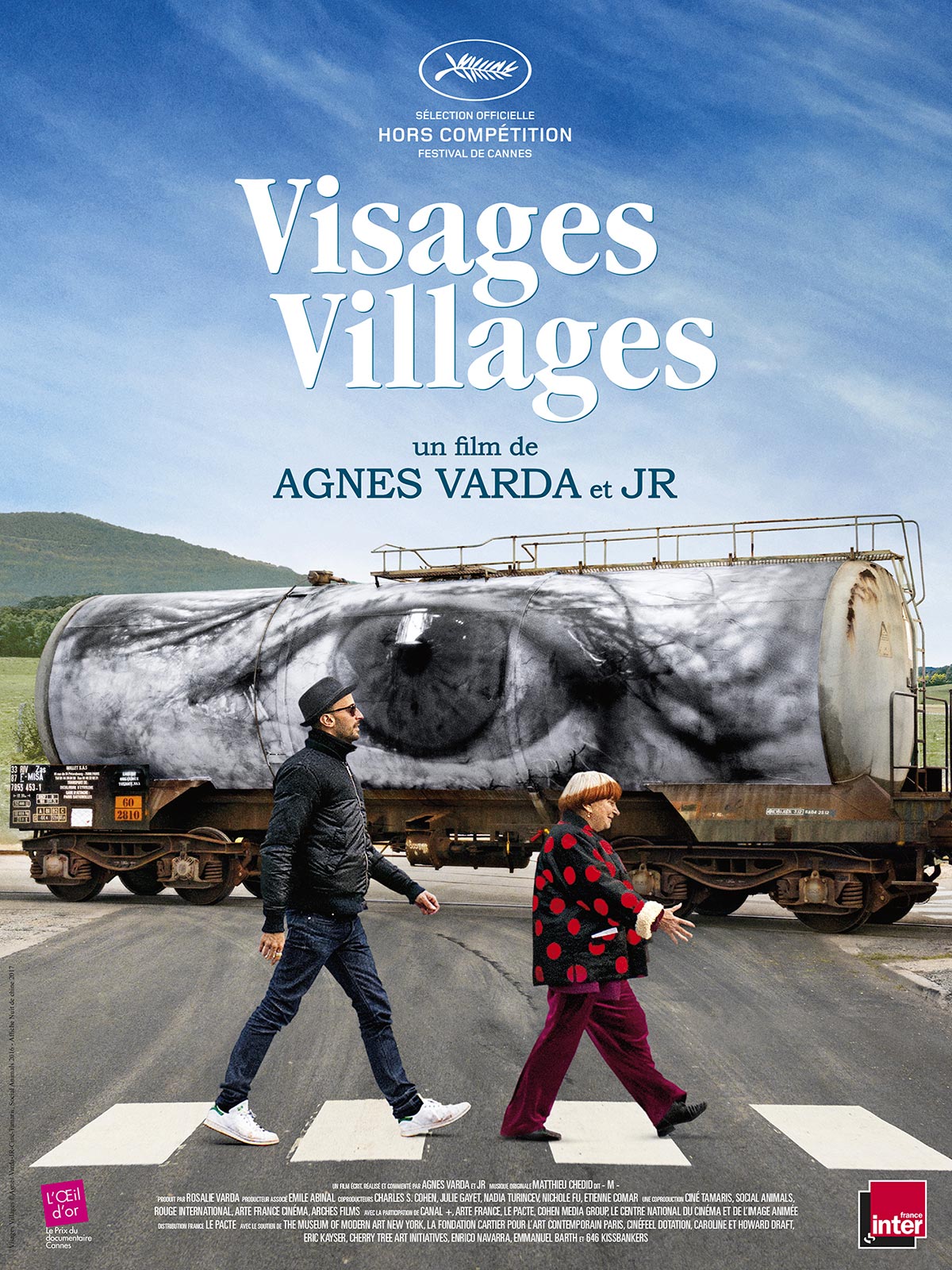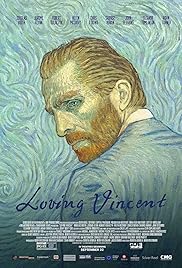Maze Runner 3 - Crítica
Há 4 anos e alguns meses o segundo filme da saga Jogo Vorazes, "Em Chamas", entrou em cartaz. Apesar de uma recepção muito positiva em relação ao roteiro (que, se avaliado apenas como uma sequência e não como uma adaptação, é muito bom em relação ao primeiro, por exemplo), às atuações e aos efeitos visuais, eu não achei o filme tão bom quanto falavam. Isso porque muita coisa que é fundamental no livro ficou de fora do filme e muito coisa que está tanto no livro quanto no filme podia ter ficado de fora do mesmo. Este sentimento retorna com o dois últimos filmes da trilogia "Maze Runner", sendo o segundo uma decepção pois diverge de forma execrável do enredo dos livros e o último apenas uma extensão razoavelmente bem dirigida desta divergência da história.
Após decidirem resgatar um membro do grupo da empresa CRUEL e falharem, os fugitivos do labirinto vão atrás da "Última Cidade" para buscá-lo e conseguirem viver em paz finalmente. Esta premissa até que funcionaria para uma trilogia de filmes que não se derivam de uma série de livros (o que é raríssimo hoje em dia, o exemplo mais recente que eu consigo lembrar agora é a trilogia do Toy Story que se encerrou em 2009), mas para a adaptação do terceiro livro da série escrita pelo James Dashner não só é inviável mas também absurda, cujo motivo eu já havia citado. Mesmo assim, o filme possui pontos fortes.
A criação de mundo é simplesmente excepcional, conseguindo criar um equilíbrio entre o future-noir, que o diretor de fotografia certamente se inspirou no universo de Blade Runner, e a atmosfera distópica presente nos dois filmes antecessores. Entretanto, o design de arte interno é minimalista comparado à epicidade do exterior, o que poderia ser justificado em produções de baixo orçamento, como é o caso de praticamente toda a filmografia do Yorgos Lanthimos, mas que aqui não se explica, considerando que o longa teve um orçamento de 62 milhões de dólares (e que com certeza metade do mesmo se destinou à pós-produção que é indiscutivelmente a melhor parte do filme).
O roteiro, se é horrível como adaptação, não chega nem perto de ser razoável. Apesar de ter um primeiro ato relevante e o desenvolvimento até que não muito instável, a conclusão possui várias partes que deixam o espectador na beira da poltrona, mas a grande maioria desses momentos acabam sendo desperdiçados com reviravoltas desnecessárias, deixando subtramas confusas e um tom exagerado de sentimentalismo que chega a beirar o patético, deixando NO MÍNIMO 10 minutos sobrando e que poderiam muito bem ter sido cortados pois não apresentam absolutamente nada senão clichês, como o discurso sobre a glória em recomeçar.
As atuações são pelo menos melhores do que nos filmes anteriores. O Dylan O'Brien tem bem mais personalidade e infinitas camadas, fazendo com que seu personagem seja mais bem trabalhado em questões narrativas. A Kaya Scodelario faz, até onde eu sei, a melhor performance da sua carreira. Ainda assim, não é grande coisa, já que o roteiro não a ajuda nem um pouco, tendo apenas um diálogo digno de aplausos e um momento onde ela realmente convence quem ela interpreta (apesar de ser um momento muito desnecessário). O Thomas Brodie-Sangster está bem, ele consegue passar a ideia que ele e Thomas possuem um vínculo afetivo de dar inveja e tem o seu momento de brilhar. A Rosa Salazar interpreta uma personagem MUITO rasa, chegando a não evoluir nada de um filme para o outro, mas ela pelo menos possui certa relevância narrativa. O Ki Hong Lee dá o seu melhor, assim como o Will Pouter, e digo isso pois ambos que não possuem tanto tempo de tela quanto mereciam e mesmo assim fazem um ótimo trabalho. A Patricia Clarkson está inútil (LITERALMENTE, tanto é que tem uma cena cujo objetivo dela é LITERALMENTE estar imóvel, como que se fizesse parte da decoração do ambiente onde a cena se passa) e o Aidan Gillen, calculista e manipulador.
"Maze Runner: A Cura Mortal" tem as suas virtudes, principalmente no campo visual onde até a computação gráfica passou despercebida, mas muitos defeitos em relação ao roteiro, chegando a ser um elogio dizer que o mesmo possui um enredo medíocre. Isso sem contar de algumas atuações superficiais e possuir um desfecho que até o espectador que viu todos os filmes vai se sentir perdido pois deixa muitas pontas soltas ao mesmo tempo que gasta muito tempo inserindo material vazio. Por fim, o excesso de explosões é irritante já que, não lembra a fama do modo de produção do Michael Bay, tem como objetivo representar a anarquia, quem sabe, o ludismo, o que faz destes fragmentos puramente gráficos uma tentativa de referenciar à "Clube da Luta" mas que não tem absolutamente nenhuma importância. Ainda assim, o filme não é o pior da saga. 5,5/10.